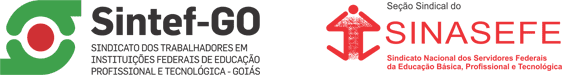Por: Yangley Adriano Marinho
Black Lives Matter!, ou em bom português “Vidas Negras Importam!”, mais que um grito, trata-se de um movimento que começa a ser constituído, em 2013, nos Estados Unidos, contra a violência policial direcionada a pessoas negras. Ainda que a denúncia dos vários casos de execuções sumárias de homens negros seja o que geralmente se associe enquanto mote do movimento, o mesmo também vem levantando discussões em torno de outros componentes do racismo estadunidense, tais como o encarceramento em massa. No livro de Michelle Alexander, “A nova segregação: racismo e encarceramento em massa”, fica evidente como o sistema de justiça estadunidense está totalmente comprometido com um projeto deliberado de criminalização contínua da população negra e latina.
De toda forma, é com o recente caso George Floyde, homem negro de 46 anos, brutal e torpemente assassinado por um policial branco, na cidade de Minneapolis, que o movimento veio a ganhar maior repercussão, com manifestações e protestos rompendo as fronteiras estadunidenses e se espalhando por várias partes do mundo. No Reino Unido, por exemplo, foram destruídas estátuas que homenageavam personalidades ligadas ao tráfico de africanos/as escravizados/as, numa tentativa de mostrar como tal prática, já questionável à época de seu desenvolvimento, não pode seguir ocupando lugar de destaque nos espaços públicos.
Diante de tamanha repercussão mundial, é profundamente estarrecedor que no Brasil, país de maior população negra fora do Continente Africano, o “Vidas Negras Importam” possa receber uma adesão tão tímida quanto a que se tem observado. Ainda assim, mesmo que longe do efeito desejável, é possível notar um nível considerável de indignação, com discussões sendo promovidas nas redes sociais e até por parte da grande mídia. Infelizmente, não é possível verificar no âmbito dessas mesmas mídias, tratamento similar em relação aos diversos casos como o de George Floyde dentro da realidade nacional. Recorrendo-se apenas a um recorte mais recente, pode-se citar alguns exemplos: os 5 jovens negros metralhados pela PM do Rio de Janeiro (foram 111 disparos) quando, em novembro de 2015, retornavam de uma comemoração pelo primeiro salário de um deles; em abril de 2019, durante a intervenção militar no Rio de Janeiro, o assassinato do músico Evaldo Rosa, cujo carro também fora metralhado com mais de 80 tiros, quando, em companhia de familiares, dirigia-se a um chá de bebê; indo para São Paulo, em dezembro de 2019, destaca-se o que ficou conhecido como o “Massacre de Paraisópolis”, no qual 9 jovens, na maior parte negros, morreram durante truculenta ação da Polícia Militar, na tentativa de dispersar um baile funk; novamente no Rio de Janeiro, em maio desse ano, o caso do garoto João Pedro Matos, morto dentro de casa numa operação conjunta das polícias civil e federal.
Enfim, são inúmeros casos, inclusive cenas que parecem mimetizar macabramente o ocorrido com George Floyde, vide as imagens divulgadas nesse mês de julho – porém registradas no último dia 30 de maio –, nas quais uma senhora negra de 51 anos aparece sendo pisada no pescoço por um policial militar, em Parelheiros, Zona Sul de São Paulo.
A recorrência absurda com a qual fatos como os trazidos acima acontecem no Brasil, impede que se apele para a coincidência como elemento explicativo para a morte de tantas pessoas negras durante abordagens policiais. Ao contrário, há padrão nisso tudo. Uma sistemática e deliberada intenção de eliminar gente preta. Seja por meio do puro e simples assassinato ou mesmo pelo encarceramento em massa. Por óbvio que tal intencionalidade sempre foi oficialmente negada, estratégia esta que talvez venha sofrendo uma inflexão nos últimos anos, dado o cinismo cada vez maior com o qual os verdadeiros objetivos acabam sendo revelados. É o que se verifica num vídeo registrado também em maio desse ano, no qual um empresário aparece ameaçando e desferindo toda sorte de insultos contra policiais militares chamados para uma ocorrência de violência doméstica, em Alphaville, bairro nobre de São Paulo. “Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano”, eis nessa frase, proferida pelo empresário em meio a ofensas aos militares, o porquê de o mesmo não ter sido pisado no pescoço e, muito menos, morto no curso da ação policial: o indivíduo abordado era branco, rico e morador de bairro nobre. Um dos militares viria a público posteriormente negar que sua conduta seria diferente na periferia, alegação que parece não condizer com as orientações vindas de seus superiores.
Entrevistado em 2017 pelo portal UOL, o então novo comandante da ROTA, a tropa de elite da PM-SP, tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, defendia uma abordagem policial, na periferia, diferente da realizada em zonas elitizadas. De acordo com o mesmo, “É uma outra realidade. (…) A forma de abordar tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa da mesma forma que (…) aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado”. Por mais que outros militares tenham criticado o posicionamento do tenente-coronel, é a sua narrativa e também a do morador de Alphaville que os dados acerca da violência vêm corroborando. Os números do Atlas da Violência têm demonstrado, ano após ano, o quanto jovens negros periféricos são as maiores vítimas de homicídio e representam mais de 60% da população carcerária.
Em que pese tratar-se de uma realidade que guarda suas especificidades, a já mencionada obra de Michelle Alexander, assim como o documentário “A 13ª Emenda”, disponível na plataforma de streaming Netflix, oferecem pistas bastante úteis no entendimento dessa violência guetificada que atinge pobres e, sobretudo, a população negra. Conforme discussão presente nas obras, a partir da abolição da escravidão nos EUA, a qual resultou de uma guerra civil de grandes
proporções, estabeleceram-se brechas legais, verdadeiros ardis que permitiram manter milhões de negros sob estrito controle das elites brancas. Por esse viés, passou-se então a uma sistemática criminalização da população afro-americana, principalmente homens, cuja aparência passou a ser divulgada nos jornais e cinema, a partir de traços grotescos, bem como sua índole alardeada enquanto pervertida e vil. A partir de então, seguir-se-iam as leis de segregação que vigoraram até os anos 1960 e, em seguida, outros dispositivos legais cujos efeitos possibilitaram encarcerar massivamente negros e latinos.
Quanto ao fim da escravidão em território brasileiro, este não se daria com a intensidade dramática de um conflito armado como na guerra civil estadunidense. Por aqui, a abolição veio dentro de uma premissa que se tornaria tendência na resolução dos impasses nacionais, ou seja, algo “lento, gradual e seguro”. O que não significa a ausência completa de lutas. Ao contrário, houve sim resistência durante todo o tempo de vigência do regime escravista brasileiro, sendo a formação de quilombos como o de Palmares um dos grandes exemplos disso. O fato é que mesmo considerando as diferenças nos dois processos, após 13 de maio de 1888, também os afro-brasileiros seguiriam tendo seus corpos e cultura criminalizados. Teorias pseudocientíficas como a do “criminoso atávico”, de autoria do italiano Cesare Lombroso, prosperariam fortemente por aqui, sendo o negro descrito como um ser naturalmente propenso a cometer crimes. O que veio depois, como o apontado por Abdias Nascimento, foi um verdadeiro genocídio do negro brasileiro, ainda que um genocídio silencioso, camuflado pelo mito da democracia racial.
Seja como for, de modo mais tácito (Brasil), ou de modo mais explícito (EUA), o certo é que a abolição, em ambos os casos, não significou a liberdade plena dos ex-escravizados e seus descendentes. A busca foi pela manutenção e remodelamento de um necropoder que pudesse manter sob controle os corpos negros, mesmo com o fim da escravidão. Nesse sentido, vale a pena insistir um pouco na perspectiva de necropolítica desenvolvida no ensaio homônimo de Achille Mbembe. Ancorando-se no conceito de biopolítica de Michel Foucault, o autor camaronês procura avançar na compreensão das relações que determinam, em sociedades contemporâneas “quem pode viver e quem deve morrer”. O autor identifica então a permanência de elementos próprios de contextos coloniais modernos, os quais, na atualidade, acabam por receber roupagens mais sofisticadas e bem mais letais.
A constante (re)invenção de um inimigo ficcional sempre à espreita, alimentando uma lógica de guerra contínua, constitui um dos elementos mantidos pelo necroestado brasileiro. Assim, não podem restar dúvidas de que esse inimigo ficcional são as comunidades negras, desde sempre empurradas para condições de vida as mais aviltantes e associadas dentro do imaginário nacional a toda sorte de delinquências.
Têm-se até aqui, portanto, evidências que demonstram o motivo pelo qual pretos e pardos são os alvos principais da violência em geral e, mais especificamente, aquela praticada pelas forças de segurança. Resta, entretanto, discutir mais diretamente o porquê de, no Brasil, o extermínio e o encarceramento em massa de jovens negros não despertarem uma indignação coletiva na proporção da tragédia que representam. Não é possível compreender tal situação sem compreender um conceito absolutamente fundamental como o de racismo estrutural. Em consonância com o que é apresentado por Silvio de Almeida na obra “O que é racismo estrutural”, todo esse processo de criminalização da população negra não deve simplesmente ser creditado a desvios individuais ou mesmo grupos de policiais racistas – os quais, certamente precisam receber punições rigorosas. Tampouco se deve circunscrever às instituições, como no caso das PMs, a responsabilidade pela continuidade do problema – ainda que a compreensão de como o racismo opera em nível institucional tenha representado um avanço. De outro modo, e como o próprio autor argumenta “o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional”. Desse ponto de vista, a sociedade brasileira não se indigna, ou se indigna muito pouco em relação ao genocídio em curso, porque esta, como um todo, é racista.
Dizer isso não significa acreditar que os brasileiros simplesmente queiram ser racistas, mas que vivem um país estruturalmente organizado para funcionar de modo racista. Daí o fato de, por aqui, os corpos negros serem diuturnamente vilipendiados, uma vez que sempre nos foi ensinado, explícita ou veladamente, que os mesmos são descartáveis. Por óbvio, também, que essa constatação não pode servir para que nos resignemos ainda mais diante do racismo. Trata-se de conhecer a magnitude do problema para que então se possa traçar estratégias adequadas ao seu enfrentamento.
Por fim, é impossível compreender o racismo estrutural brasileiro sem voltar o olhar para aquilo que é sua origem maior: o latifúndio escravista. Um país que fez da escravidão um elemento tão difundido em seu cotidiano não poderia passar incólume, ainda mais pela estratégia negacionista que se adotou ao longo de todo o século XX e que ainda perdura. Último grande país a extinguir a escravidão, o Brasil foi o destino de pelo menos 1/3 dos africanos traficados para a América, algo em torno de 4 milhões de vidas negras escravizadas. É preciso que nos debrucemos cada vez mais sobre esse processo para que se possa compreender o porquê de no país onde mais se importou vidas negras, vidas negras não têm importado tanto assim.